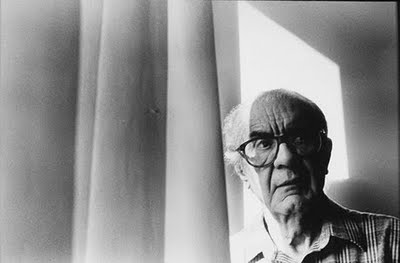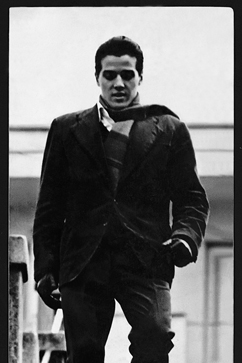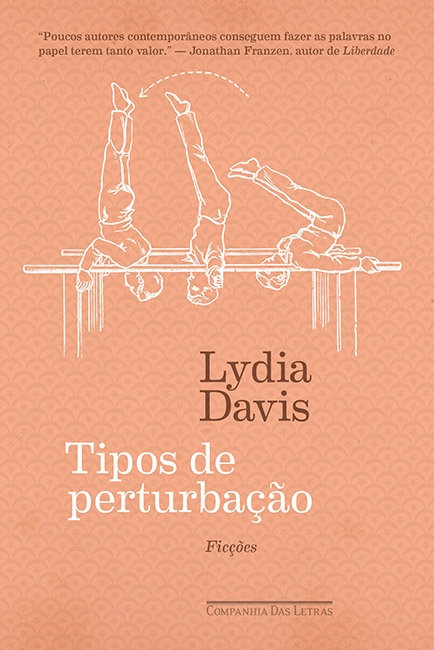Gtalking com o escritor
29/07/13 12:00No sábado publiquei na Ilustrada um texto apresentando o ótimo romance “Digam a Satã Que o Recado Foi Entendido”, que o Daniel Pellizzari lança agora pela Companhia das Letras.
Na semana anterior, havia feito uma entrevista com ele por Gtalk, mas só umas poucas aspas da conversa puderam ser encaixadas no texto em papel (que é este aqui).
Muitos trechos da conversa configurariam “spoiler”. Mas o Elekistão (que fica ao 170 km ao leste de Legresgrado, território onde se passa parte de “Dedo Negro com Unha”, primeiro romance do dito cujo) colheu e selecionou alguns trechos, publicados abaixo.
Ah, o próprio Pellizzari escreveu um bom post esclarecedor sobre o seu livro, que pode ser lido aqui. E no site www.cabrapreta.org há um bocado mais sobre o figura (lá é possível descobrir, entre outras coisas, que ele estreou na literatura com o volume “Contos de Daniel”, que publicou aos 6 anos de idade pela “Editora Batman”, adianta o título provisório de seu próximo romance, “Ser Elogiado, Não Ser Criticado, Ganhar, Não Perder, Ser Feliz, Não Ser Infeliz, Ser Reconhecido, Não Ser Ignorado”, reúne uma lista de todas as suas traduções e apresenta alguns “álbuns de recortes”, como “Gostosa Que se Acha Gorda – Para com Isso, Mulher”).
Eu: Sobranceiro e fornido?
Daniel: Opa.
Eu: É bem marcante no livro a questão do desajuste dos personagens, a maneira como todos eles estão fora do prumo. Também me parece haver nele um niilismo muito engraçado…
Daniel: É um livro todo construído ao redor de desajustes, de certo modo. A Irlanda num período atípico, recebendo imigrantes ao invés de exportar gente. Imigrantes num país desacostumado com tantos estrangeiros morando por lá. E um monte de gente desencaixada de tudo gravitando nesse cenário.
Eu: O romance tem esta marca de ser narrado por seis personagens diferentes. Desde o início o livro foi pensado desta maneira, polifônica?
Daniel: (Só agora li sobre o niilismo: engraçado, não acho tão niilista assim. Alguns personagem encarnam isso, claro, como o Barry. Mas a Patricia, ao menos na minha cabeça, é alguém que não só insiste em enxergar um sentido, como tenta se engajar na construção dele, de uma identidade, de tudo). Mas com relação à pergunta, “desde o início” o livro foi muitas coisas, porque levei anos até descobrir como contar a história que tinha se formado na minha cabeça. Mas sempre foi em primeira pessoa, ainda que tenha pensado em algum momento em ter apenas dois narradores (Magnus e Laura). Não deu muito certo, e eu queria explorar mais o pessoal da Família [seita neocelta da qual participam alguns personagens do livro], então as vozes foram se acomodando de acordo com os pontos de vista conflitantes ou complementares que eu queria mostrar. Tem todo esse jogo de percepções, de situações que se iluminam ao aparecerem pelos olhos de outra pessoa, e a melhor maneira de fazer isso é com polifonia. Pelo menos pra mim. E também estava com vontade de escrever em primeira pessoa, porque nunca tinha usado muito esse tipo de narrador. Como meu maior interesse era explorar a vida interior dos personagens, tudo se encaixou.
Eu: Quando foi a viagem a Dublin?
Daniel: Fui em outubro de 2007. Fiquei 32 dias e voltei depois do Halloween
Eu: Você já conhecia a Irlanda?
Daniel: Não, nunca tinha saído da América do Sul. Só Argentina, Uruguai, aquela coisa. (“Nunca tinha saído do Rio Grande do Sul”, então).
Eu: As referências aos lugares de Dublin foram todas realistas ou você inventou ruas, lanchonetes (com o melhor milk-shake do mundo), casas e tudo o mais mas? Por exemplo, você esteve no número 7 da Asgard Road, onde a “Família” se encontrava?
Daniel: Todos os lugares existem, daria até pra fazer um site com todas as referências no Google Maps. Estive na casa da Asgard Road várias vezes. Ela estava à venda, inclusive. Tentei fazer uma visita como possível comprador, mas não rolou. Nunca conseguiram vender. Logo estourou a bolha imobiliária, e agora (olhei semana passada) está pra alugar. Eu usei as fotos internas do folheto da imobiliária pra conhecer a casa por dentro.
Eu: Você tinha duas premissas, a história se passar em Dublin e incluir uma história de amor…
Daniel: Isso.
Eu: Você acha que ao olhar do leitor tem muito amor no romance?
Daniel: Não posso falar quanto ao olhar do leitor, mas para mim tem várias histórias de amor no livro. Inclusive uma importante. Bem torta. Mas todas são.
Eu: Mas voltando ao amor, quando eu falava do niilismo eu pensava que, no romance, mesmo o amor parece não valer muito a pena, como se fosse algo que tenhamos de viver,
mas que é claramente fadado a ser um “problema”.
Daniel: É mais desencanto que niilismo. Desajuste e desencanto, duas coisas que aparecem o tempo todo. Mas os personagens reagem de modo diferente. Acho que disso também vem o humor, que é mesmo presente, mas não é exatamente um humor de comédia. É como o condenado gargalhando diante da forca. A risadinha de patíbulo, pra conseguir lidar com coisas que parecem impossíveis de vencer. Onde tem pessoas existem problemas, não consigo enxergar o amor escapando a essa lógica.
Eu: os personagens, além de desajustados e desencantados, são muitas vezes ingênuos, não acha?
Daniel: Não sinto eles como especialmente ingênuos, no sentido de mais ingênuos que a maioria. São só tipos variados de ingenuidade. Porque até os personagens mais cínicos, até céticos, como o Barry, que é de fato mais niilista, também tem sua ingenuidade. Mas todo mundo tem. É outra coisa inescapável. Um dos títulos do livro foi “Todo mundo”, por sinal.
Troquei porque era ruim e pernóstico. E porque era uma referência tonga a Joyce, coisa que eu queria evitar com todo o vigor do mundo.
Eu: O livro tem muitas referências ao ocultismo. De onde vem o interesse pelo tema?
Daniel: Meu interesse é mais por fenômenos à margem, mesmo. É uma mistura de empatia, porque me identifico com elas desde moleque, com o fascínio gerado por ter conhecido nas minhas andanças muitas pessoas que só consigo definir como “bem diferentes”, e visto como funcionam, como veem o mundo. Lidar com isso em ficção é uma maneira de tentar entender melhor essas pessoas, e ao mesmo tempo de dar voz a elas. Sei que isso pode parecer meio arrogante -quem sou eu pra dar voz a alguém?- mas, enfim, escrever ficção é isso. Eu gosto de tentativas de ordenar o mundo, em geral -o que vale pra definir qualquer coisa, no fim. Ocultismo e religiões me interessaram desde sempre porque têm uma estética muito pronunciada e particular, e de certo modo lidam com o mundo dessa forma marcadamente estética: cabala, por exemplo, com a árvore de sefirot, todos aqueles símbolos, tabelas e esquemas. E como eu também funciono desse jeito, não tinha como eu ir para outro lado. Então é um universo no qual mergulhei muito cedo e que, naturalmente, moldou muitas coisas na minha personalidade.
Eu: Mas assim como o seu livro possivelmente só pudesse ter sido escrito por alguém que se interessa pelo ocultismo também há um olhar irônico em relação a esse universo. Por quê?
Daniel: Que de certo modo também só poderia ser escrito por alguém com vivência nesse universo. Porque pelo menos na minha cabeça tem isso, mas tem ao mesmo tempo alguma empatia. Não escrevo sobre essas coisas para “ser diferente” ou algo assim. São só os limites do meu mundo, é o que eu consigo expressar, são os personagens e situações que consigo criar. Não tem nada autobiográfico, mas é claro que nasceram das coisas que vi e vivi.
Os Homens Grandes de Órion, todavia, e todos os delírios relativos a eles, são retirados ipsis literis de uma esotérica que conheci.
Eu: Puxa…
Daniel: Bem o tipo que eu conheci muito e usei pra compor o Demetrius, misturando com a esquizofrenia sem limites. É um livro quase real-naturalista, pra mim.
Eu: Quando os “terroristas” que fazem uma ponta no romance estão roubando a múmia falam sobre o dedo negro dela. É uma citação do romance anterior ou só uma coincidência?
Daniel: Citação. Minha literatura mudou, mas tem coisas que são imortais. Mas o dedo da múmia de fato é negro, de tanto que passam a mão nele. Tem duas referências no livro ao dedo, o avô da Patricia menciona uma seita que venera um deus que protege o mundo de um novo dilúvio e que não tem um dos dedos.
Eu: Uma coisa que me ocorreu enquanto lia o livro é que muitas vezes parece um romance de um autor de língua inglesa e fiquei pensando até que ponto sua atividade de tradutor e seu envolvimento como leitor de muita literatura de língua inglesa influenciou isso.
Daniel: Eu leio muito mais em inglês. Já li bastante coisa de literatura em língua portuguesa, e sigo acompanhando a literatura brasileira contemporânea, tanto como leitor quanto com olhos do editor que nunca deixei de ser [ele fundou, com Daniel Galera e Guilherme Pilla uma editora chamada Livros do Mal, que publicou seus primeiros volumes de contos]. E acho que enfim a literatura brasileira está entrando em grande fase. Mas a maior parte das coisas contemporâneas que leio e que me empolgam e, claro, acabam influenciando, são de língua inglesa. Acho que essa sua interpretação tem a ver com a locação, também. E de certa forma tem uma prosódia meio anglófona em alguns personagens, porque eu sempre imaginei eles falando em inglês. Por motivos óbvios.